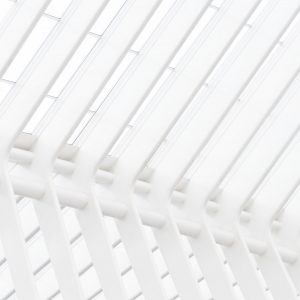Na última terça-feira (16/06), o imortal José Sarney subiu à tribuna do Senado para mostrar ao Brasil sua defesa a respeito dos abusos que lhe foram imputados. Não tratou dos fatos, mas trouxe a lume uma questão que merece mais interesse do que o rito protocolar em um processo que bem sabemos como vai acabar.
O senador afirmou que a democracia representativa está em crise. No mundo todo, as casas legislativas estariam sofrendo o ataque de grupos que se pretendem legítimos representantes do povo. Os interesses do povo, legitimamente representado pelos nobres integrantes das casas legislativas, estariam ameaçados pela ação de grupos que se valem dos novos meios de comunicação para tentar se impor como os reais representantes da vontade popular.
Bobagem, é claro. Cortina de fumaça para que se esqueça dos fatos – bem reais, bem concretos – de que José Sarney e outros tantos senadores da República são acusados.
Mas, além de servir para desviar os olhares dos abusos e desmandos que lhe são imputados, a invocação da crise da democracia traz à pauta uma discussão essencial para compreender nossa estrutura política e social. Discussão que ganhará em validade se forem utilizados argumentos que não visem apenas a encobrir acusações em uma peça de defesa.
Uma questão fundamental, que deveria nos afligir e que tem sido solenemente ignorada em nossos estudos constitucionais e sociológicos, é a definição a respeito do que deveríamos esperar da democracia. Nos últimos dois séculos, repetimos sem parar o bordão democrático segundo o qual todo poder emana do povo. Acho que já é hora de questionar a validade desta bela fórmula.
Considero mais uma questão de fé do que um fato histórico crer que o povo efetivamente exerce poder nas sociedades contemporâneas. Mesmo que fosse facilmente superável o problema da correta definição do conceito de povo (que não pode ser confundido com o de população), há várias conclusões de respeitáveis estudiosos que colocam em cheque a capacidade de efetivo exercício de poder por parte do povo.
A alienação ideológica, subproduto óbvio de uma sociedade consumista, torna a mente das pessoas um alvo fácil da mídia, e valida a conhecida afirmação no sentido de que “não há opinião pública, mas opinião publicada”. As falhas no processo educacional do país tonificam este processo.
Assim, o que se pode colher de eleições está longe de representar a consciência popular. Representa sim, com honrosas exceções, a eficiência de campanhas de marketing. Consumimos rostos de políticos, assim como nos rendemos a novas embalagens e aos depoimentos descaradamente falsos das estrelas televisivas.
Se somos assim manipuláveis, não podemos nos considerar detentores de qualquer espécie de poder social. Somos, antes, elementos de justificação e legitimação artificial do poder real.
O poder real, numa lógica simples, é aquele capaz de formular a opinião pública. E este poder, nos últimos dois séculos, é o poder econômico. Ele dá o timbre e o conteúdo da voz popular. A retórica democrática serve apenas para legitimar um poder detido por poucos, que agem centrados em seus interesses econômicos.
Friedrich Müller sentenciou: “Na realidade a dominação nunca é exercida pelo povo. Mesmo ao democrata incondicional Jean-Jacques Rousseau, o autogoverno careceria de um ‘povo de deuses’. Ora, não somos um povo de deuses. O povo dos homens, o povo humano continua servindo para o fim de prover de legitimidade até pelo fato de ele ser dominado. (…) Dominação é fundamentalmente um fenômeno oligárquico e a população não faz parte deste oligopólio.”
A história revela que as sociedades sempre estiveram sujeitas a alguma estrutura de dominação. Variaram, contudo, seus fundamentos, criando-se três espécies de poder: religioso, militar e econômico. Acredita-se que o poder popular possa substituir estas variáveis de poder. Não pode. A coesão social não deriva da harmonia, mas da força. Força que provém das armas, do temor a Deus ou do poder da mídia. Aliás, o próprio Estado era costumeiramente definido pela Escola de Frankfurt como a violência organizada. Em alemão, a palavra Gewald pode ser traduzida como violência ou como poder, indistintamente.
A democracia, neste contexto, não é uma forma de poder. Quando é evoluída, constitui-se em eficiente forma de controle do poder real. Já quando se está diante de regimes democráticos em países cuja população detém pouca capacidade crítica e frágil unidade cultural, a crença de que o poder emana do povo converte-se em mero elemento retórico de legitimação do poder real.
Vamos imaginar que vivemos em um país civilizado a ponto de não se mostrar viável o populismo, que é a pior das distorções da democracia. Neste caso, o freio popular aos abusos cometidos pelos reais detentores do poder somente será eficiente se não se apresentar de forma difusa. Sem organização e pressão não há como exercer eficientemente o papel de defesa dos interesses sociais. Daí deriva a importância da sociedade civil organizada.
A Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, do alto de sua legitimidade, abrangência e organização, foi decisiva em diversos episódios da história política brasileira. Na Índia, as organizações de pequenos agricultores sentenciaram o fracasso da última reunião da Rodada de Doha, quando o Primeiro Ministro do país, ameaçado pela pressão de entidades que representam 300 milhões de votos, recuou, e, com seu recuo, acabou com a possibilidade de consenso entre os líderes mundiais.
Este é o efetivo limite da democracia. Defender os interesses sociais de forma pontual, combatendo abusos e iniquidades dos reais poderosos na sociedade globalizada. Pensar no contrário, na formação de uma sociedade justa, fraterna e igualitária, pode ser charmoso, mas não leva à melhoria das condições de vida. Retomando as palavras de Friedrich Müller, temos que “caso a ‘democracia’ deva ser mais do que um argumento ideológico, mais do que um mero exercício de retórica, resta apenas a rebelião armada que os povos empreendem sempre de novo, de tempos em tempos, e que sempre conduz à sua dominação oligárquica (isto é, à dominação passageira por outro oligopólio).”
A história refuta o ideal da igualdade, pressuposto lógico de uma democracia real. Ela nos mostra que a história do homem é a história da dominação. A solidariedade como eixo de um grupo social somente seria possível se este grupo fosse constituído exclusivamente por pessoas solidárias. A existência de um, apenas um, que tenha um projeto pessoal de poder, faz com que a sociedade solidária torne-se uma sociedade dominada, usualmente de forma demagógica. Machado de Assis sintetizou com inimitável precisão a natureza do homem, e os limites da democracia, na crônica O Dicionário, que inicia assim: “Era uma vez um tanoeiro, demagogo, chamado Bernardino, o qual em cosmografia professava a opinião de que este mundo é um imenso tonel de marmelada, e em política pedia o trono para a multidão. Com o fim de a pôr ali, pegou de um pau, concitou os ânimos e deitou abaixo o rei; mas, entrando no paço, vencedor e aclamado, viu que o trono só dava para uma pessoa, e cortou a dificuldade sentando-se em cima. ‘- Em mim, bradou ele, podeis ver a multidão coroada. Eu sou vós, vós sois eu.’ O primeiro ato do novo rei foi abolir a tanoaria, indenizando os tanoeiros, prestes a derrubá-lo, com o título de Magníficos. O segundo foi declarar que, para maior lustre da pessoa e do cargo, passava a chamar-se, em vez de Bernardino, Bernardão.”
A fraternidade, a solidariedade e a justiça por vezes orientam as ações de alguns. Mas o homem, em suas atitudes médias, construiu uma história que não nos dá a esperança de um futuro igualitário.
Mais útil do que viver preso à ilusão é conhecer (não reconhecer, não aceitar) o inevitável dominador, para combater-lhe as fraquezas e reduzir a opressão. Reduzir a opressão é um resultado menos nobre do que eliminá-la. Mas é o resultado possível.