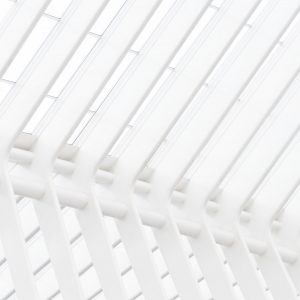Se fizéssemos uma votação entre os alunos dos cursos de graduação em direito para que fosse indicada a matéria mais chata do curso, o direito empresarial seria franco favorito. Os egressos de nossas faculdades usualmente relatam que têm pouca simpatia pelo estudo do direito de empresa, principalmente porque consideram a matéria um amontoado de normas obscuras, apresentadas de maneira fragmentária e tecnicista.
Mas não precisava ser assim. Uma compreensão mais apurada da matéria poderia ser obtida se os professores tomassem o cuidado de expor e fixar os princípios regentes do direito empresarial. Desta forma, haveria um entendimento que superaria a abstração dos conteúdos técnicos da norma. O direito ganharia vida, por meio da compreensão dos efeitos sociais de sua aplicação.
Seria de esperar que o estudo de um ramo do direito começasse com a análise de seus princípios, para que estes pudessem ser utilizados como suporte a uma correta interpretação das normas instrumentais posteriormente analisadas. No direito de empresa, curiosamente, são raríssimos os programas que partem do óbvio, que seria a exposição dos princípios próprios deste ramo do direito. Praticamente todos os cursos começam de imediato com a parte dogmática. Normalmente, parte-se do conceito de empresário, para depois serem analisados temas que abrangem a tutela do estabelecimento empresarial, do registro de empresas, da propriedade industrial e do direito concorrencial, para em semestres posteriores estudar-se o direito societário, os contratos empresariais, os títulos de crédito e o direito falimentar (incluindo a recuperação de empresas). Tudo exposto de maneira tecnicista, sem referência aos princípios regentes da matéria empresarial, e sem a noção de qual seria a função socioeconômica esperada da aplicação de tais normas.
A consequência mais evidente, e menos danosa, desta prática de ensino, é a já referida chatice que tradicionalmente caracteriza o direito de empresa. Mas há outras consequências, muito mais graves, entre as quais se destaca a incompreensão quanto à forma mais eficiente de aplicação social do direito empresarial.
Advogados e juízes muitas vezes partem para a solução de litígios sem a compreensão completa dos conteúdos envolvidos. Esquecem-se de que a função do direito de empresa não é a de simplesmente regular a forma de realização de assembleias sociais, ou de determinar os requisitos formais para o arquivamento de um documento frente à Junta Comercial. Muito mais importante do que esta função de regulação da atividade empresarial é a de estímulo ao desenvolvimento do empreendedorismo. Se hoje é evidente que o desenvolvimento socioeconômico de uma nação depende de um ambiente de geração de empregos e de desenvolvimento tecnológico, parece claro que tais objetivos somente podem ser alcançados se o estado oferecer aos empreendedores um aparato normativo que gere condições objetivas de viabilidade dos projetos empresariais.
Dentro desta premissa, colhem-se na mais atual doutrina do direito de empresa dois princípios, de natureza funcional, que confirmam a autonomia material deste ramo do direito: o incentivo ao empreendedorismo e a máxima tutela ao crédito.
O primeiro princípio parte de uma questão já exposta, mas que parece de difícil assimilação por parte de muitos aplicadores do direito: se o desenvolvimento socioeconômico de um país depende inicialmente da geração de empregos e do desenvolvimento tecnológico, é necessário que o empreendedor não seja tratado como um inimigo da nação, mas sim como um parceiro necessário em qualquer projeto voltado à melhoria das condições de vida da população de um país. No Brasil, o empreendedor é tratado como um fraudador presumido, responsável por todas as mazelas sociais. Dificuldades são a todo momento lançadas em seu caminho, e não removidas. E este quadro de evidente elevação de riscos e custos gera duas espécies de danos à sociedade: em primeiro lugar, não há implantação do potencial empreendedorismo, com a consequente redução no nível de atividade econômica; em segundo, há uma elevação natural na política de preços, seja para que os mesmos comportem os custos, seja para que a margem de ganho compense os riscos pessoais envolvidos.
O segundo princípio que sempre deve ser considerado pelos aplicadores do direito empresarial é a máxima tutela ao crédito. O acesso ao crédito é fundamental para o desenvolvimento de atividade empresarial, seja na forma de financiamento para a instalação ou ampliação dos estabelecimentos, seja na forma de obtenção de prazos para pagamento aos fornecedores, fazendo com que o giro das mercadorias naturalmente incremente o volume de negócios. Em ambos os casos, deve-se partir da premissa simples de que o custo do crédito aumenta na proporção inversa da segurança concedida aos credores. Assim, quanto mais eficiente for o sistema jurídico de recuperação de créditos, menor será o custo geral do crédito oferecido no mercado, e mais volumosa será a disponibilização deste crédito. No caso brasileiro, a demora e os custos de acesso ao judiciário, somados a uma incompreensão dos preceitos do direito obrigacional e cambiário, geram uma desnecessária situação de insegurança aos credores, fazendo com que diminua a oferta geral de crédito e com que seus custos se elevem na mesma proporção.
Há dois grandes problemas na aplicação destes princípios. O primeiro é de natureza ideológica, o que sempre dificulta as coisas. Muitos aplicadores do direito continuam acreditando que o mercado é um inimigo a ser combatido, e não um contexto que devem ser compreendido e bem regulado. Já o segundo problema de aplicação é de ordem lógica. Ocorre que o estímulo ao empreendedorismo (que entre outras medidas passa pela redução de seus riscos pessoais) acarreta a elevação dos riscos impostos aos credores. E o raciocínio inverso também é possível. Sempre que criamos um instrumento de proteção aos credores, elevamos os riscos pessoais dos empreendedores, dificultando assim a viabilidade econômica de seus projetos. Neste contexto, um bom sistema de direito empresarial deve buscar um equilíbrio razoável entre o estímulo ao empreendedorismo e a tutela aos credores.
No Brasil, estamos distantes de tal equilíbrio. Ambos os princípios são solenemente ignorados. Nossa jurisprudência esquece a própria lei (art. 50 do Código Civil) ao não aplicar o princípio da autonomia patrimonial e tornar a desconsideração da personalidade jurídica a regra, e não a exceção. Nossa lei parte da premissa de que operações de compra e venda de estabelecimentos empresariais são fraudulentas (art. 1.142 a 1.149 do Código Civil). Contratos (mesmo que não decorram de operações de consumo) são ignorados. Direitos de propriedade intelectual não contam com proteção efetiva. Exigências burocráticas irracionais impõem custos excessivos.
Enfim, aplicamos o direito empresarial (esta matéria tão chata, mas tão fundamental ao desenvolvimento socioeconômico de um país), como um amontoado de normas mal compreendidas tanto em relação aos seus aspectos técnicos quanto em relação à sua função socioeconômica. E as consequências destes desvios de compreensão do direito empresarial são evidentes. O alto nível de desemprego, produto óbvio da timidez na criação de novas empresas, fala por si só.